O presidente de um país defende o trabalho infantil. Relativiza um drama mundial, afirmando que as crianças não são prejudicadas por isso. Mente que ele mesmo trabalhava na roça, e afirma que só não defende a descriminalização para não ser trucidado em sua popularidade. O mais terrível é perceber que há multidões que apoiam essas afirmações. Mais: que mesmo pessoas de origem humilde reproduzem esse discurso, como se começar a trabalhar na infância fosse algo dignificante.
Decidi escrever um breve artigo, mais testemunho, porque urgente, mas também porque o tema me toca. É um artigo em que ajusto as contas com meu passado, sobre como demorei a assimilar que o trabalho infantil fez parte de minha vivência. É uma tentativa de entender o que chamo de “subalternidade agradecida”, um fenômeno que para mim é um dos componentes que leva às classes economicamente prejudicadas acatarem e defenderem o discurso de ver crianças trabalhando.
Será um artigo duro e devo incomodar algumas pessoas próximas, mas o momento o faz necessário. Poderá parecer autoindulgente, mas é ao contrário. Tenho plena consciência dos privilégios que tive, que minha experiência em uma empresa familiar não se compara nem a um milésimo do que a maioria que trabalhou antes da idade devida passa no país. Mas, diferente do que pessoas nessa condição afirmam, ponho-me totalmente contrário ao trabalho infantil, e me explico.
UMA EMPRESA FAMILIAR
Comecei a trabalhar aos 13 anos na loja de uma tia. Minha “carreira” no comércio foi curta, cerca de 5 anos, mas passei por todas as funções possíveis numa empresa familiar, em que os parentes mais próximos invariavelmente ficam nos cargos de chefia. Eu lavava os banheiros, varria o chão, organizava a loja no começo e no fim do expediente. Depois, passei a trabalhar como estoquista, repondo as seções, subindo e descendo caixas, recebendo os carregamentos. O último cargo que desempenhei foi na contabilidade, auxiliando no fechamento, faturamento etc.
Eu sempre nutri um sentimento de gratidão, alimentado pelos meus pais, pela oportunidade que tive. Muitos anos se passaram até compreender que aquilo era errado. Hoje, interpreto essa gratidão como reflexo desse sentimento que as classes subalternas nutrem para com as elites, algo entre a admiração e a inveja, a submissão e a idolatria. Isso que estou chamando de “subalternidade agradecida”.
Meus primos ocupavam os cargos de gerência. Havia outros primos, filhos de outra tia, que, a seu tempo, também tinham sido embaladores, serventes, frentes de loja. Nunca chegaram à gerência. Soube de uma que tinha sido vendedora, mas depois saiu para ser autônoma. Talvez eu tenha sido o que mais “ascendeu” na estrutura, dentro do possível para alguém que não era do núcleo familiar de primeiro grau.
Não é um passa-tempo
Apesar da estrutura de empresa familiar, os trabalhos dos primos não eram de brincadeira. Não era algo tipo ser garoto de recados, anotar algumas coisas, ganhar experiência. Era um trabalhador como qualquer outro, sujeito às mesmas regras. Resumindo, não era um passa-tempo, um estágio. Quando comecei, era “frente de loja”, aquela pessoa que fica olhando, de pé, o dia todo, quem entra e sai da loja, pra ver se alguém estava roubando. Na abertura e no final do expediente, varria a loja, limpava os banheiros. Quando passei ao estoque, devia ter uns 14, 15, eu cuidava de três andares, subia caixas de perfume etc.
Cheguei a trabalhar no escritório, um trabalho que alguém poderia classificar como “leve”, porque não precisaria carregar caixas ou lavar banheiros, mas que envolvia muita responsabilidade para alguém que estava na adolescência. Penso se um convite desses partiria de um frente de loja que não fosse parente. Pouco provável, mas, se não demonstrasse aptidão, talvez não tivesse passado da frente de loja ou da embalagem, como os outros primos.
Quando eu dizia que comecei a trabalhar com 13, me falavam que a lei não permitia, que eu estava confundindo, porque só era permitido a partir dos 16, como aprendiz. Mas eu olho minha carteira e está lá. 1989 o ano de admissão. Era de carteira assinada. Trabalhar de carteira assinada tinha um simbolismo para a cultura proletária do final dos anos 1980. Pelo menos para meu pai. Acredito que era algo a se orgulhar, mais que o sucesso escolar ou a pura felicidade.
O preço da decisão
Estava no primeiro ano do ensino médio: lembro que pensei em desistir. Eu chegava muito cansado e era um esforço ir àquela escola, Marechal Eurico Gaspar Dutra, onde estudava desde a quarta série. No ensino médio tinha um professor de português que me perseguia. Eu cheguei tarde para uma prova e ele não me deixou fazê-la. Expliquei que trabalhava e ele nem aí. Eu prometi a mim que faria segunda chamada e tiraria 10. Acho que tirei 9, e lembro que ele forçou a barra. Mas percebi que não podia desistir, que minha única chance era estudar.
Eu já contratara um professor de matemática particular no ano anterior porque na oitava série eu não tive professor. Foi com o dinheiro que ganhava no trabalho que pagava. Mas isso estava certo? Deixar a decisão do futuro de uma criança nas mãos dela? Quantas crianças tomariam essa decisão de tirar parte do dinheiro do salário pra pagar reforço escolar? O mais normal é a evasão, a desistência do mundo sem sentido da escola para o mundo dos ganhos do trabalho, do consumo.
Reconstrução da memória
Quando decidi sair da loja para dar aulas de espanhol, tinha 18 anos. Fiz as contas: ganharia 1/3 do que ganhava no comércio como auxiliar de escritório. Disse a meu pai, que não gostou. Mas eu sabia que não poderia ficar naquilo a vida toda. Tinha acabado o ensino médio e decidira não fazer vestibular de cara. Então, comecei a estudar espanhol e desenvolvi rapidamente, daí o convite para dar aula.
Eu comecei a dar aula num curso de bairro, depois fui contratado pela Fisk. De lá, chamaram-me para dar aulas em escolas particulares. Então, eu já tinha entrado e desistido do curso de Turismo, cursava Letras na Universidade Federal de Pernambuco. Meu curso foi errático, muito por ter que continuar trabalhando no meio do caminho.
Numa conversa, há uns 15 anos, meu pai lembrava minha saída do comércio. Ele elaborou a memória de outra forma, como se tivesse me apoiado na decisão. mas fiz questão de lembrar a ele que, se dependesse dele, eu ainda trabalharia em lojas do bairro de São José. Ele ficou cabisbaixo, não sei se lamentando ou discordando se a memória foi aquela mesma.
O avesso da ingratidão
Mas nada disso me faz esquecer: eu comecei a trabalhar aos 13 lavando banheiros, eu pensei em desistir dos estudos aos 14, 15, eu tive que subverter a lógica da subalternidade para sair de onde estava. Sobre isso, tem uma história interessante: almoçava no Sesc e sempre passava na biblioteca para pegar um livro. Tinha uma hora de almoço, mas o prazer da leitura não era saciado.
Eu lia sobre as caixas de shampoo do terceiro andar, em silêncio, mas ao final da hora do almoço, descia ia a meu posto, diante da loja, e colocava o companheiros (Kafka, Márquez, Dostoiévski etc.) sobre uma caixa de perfumes. Dava para continuar lendo o resto da tarde. Devem ter roubado muito a loja enquanto eu pegava de volta o tempo que roubavam de minha juventude.
É duro dizer, talvez nunca tenha assumido diretamente, mas hoje entendo que estava envolto numa lógica de trabalho infantil, que não era por maldade, era uma mentalidade aceita, valorizada, como agora querem voltar a valorizar. Amo minha tia: ela pagou um curso de animação que fiz em 1990. Adorava artes e acho que nos encontramos muito nesse gosto pela pintura. Chegamos a participar de uma coletiva juntos. Isso, no entanto, não me deve desviar do raciocínio: a lógica em que estávamos inseridos perpetuava, na maioria das vezes, e eu fui exceção, as estruturas de subalternidade.
O ciclo da subalternidade
Quando leio quem defende que o trabalho pra criança não faz mal, ouço essas vozes do passado, que hoje elaboro. Imagino que essas pessoas, se de classes inferiores, apenas reproduzem a gratidão do subalterno de que falei antes. Quando são pessoas de elites econômicas, reforçam a lógica da submissão. Há certa canalhice nisso, e me sinto triste ao saber que muitas pessoas de meu círculo familiar provavelmente defenderão que uma criança trabalhe. Aceitarão, sem perceber, a perpetuação dessa cadeia.
Não deixa de ser curioso quando lembro da história de minha mãe. Ela veio de Vitória de Santo Antão para ser babá de uma família rica da zona norte do Recife. Devem ter peguntado a alguém: “Conhece alguma menina do interior para ficar aqui cuidando das crianças?” Quem terá mediado a vinda de minha mãe para o casarão? Minha mãe tinha 13 anos. Veja a coincidência: 13 anos, como a idade que eu tinha quando comecei na loja. O ciclo se repetia comigo. Minha mãe não era da família, “mas era como se fosse”. Minha mãe só sairia de lá aos 30, para casar meu pai.
Até hoje percebo que ela tem gratidão por essa família que explorou o trabalho infantil dela, que roubou dela a infância, para cuidar dos filhos deles, “criados a leite condensado”, algo comum no Recife açucareiro dos anos 1950. A gratidão do subalterno. Eu ainda luto para romper esse complexo, para poder chegar a outro lugar. Isso se reflete como minha relação problemática com figuras de autoridade, que oscila entre o cinismo, a rebeldia ou o silêncio. Entendo cada vez mais que essa questão é estrutural de nossa sociedade e reverbera em nossas relações pessoais.
A busca da beleza
Por isso, combater o trabalho infantil é tentar quebrar essa lógica da subalternidade, nesse caso, em diferentes níveis: não apenas das classes sociais, mas do adulto frente à criança. Não existe maior ato de crueldade que machucar um inocente. O trabalho infantil machuca profundamente, deixa marcas na alma e na personalidade do futuro adulto, que passa a ter uma relação distorcida com o trabalho e com os outros.
Meu filho acordou agora, quando finalizo este texto, e vou ficar com ele nessa manhã de domingo. Ele não será submetido ao que fui, deverá aproveitar sua infância, ser encaminhado para a justiça, para a beleza; compreendendo que somos iguais e que seu trabalho deve ser valorizado, que não deve aceitar a exploração, sabendo que seu mérito se baseia em alguns privilégios, que deve lutar para que todos tenham as mesmas oportunidades.
Talvez por não perceber a beleza da liberdade das criança é que estamos rodeados dessas pessoas cheias de ódio, que querem que nos submetamos a suas ideias, que não aceitam o outro. Há muito a fazer. Semear o futuro é uma tarefa diária. A busca da beleza é um dever do qual não podemos fugir.
e receba em casa.
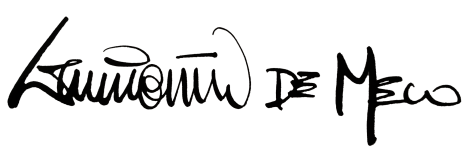




Sem comentários