Choveu muito no Recife na semana que antecedeu a morte de Maria do Carmo Barreto Campello de Melo. Enquanto a poetisa lutava pela vida na unidade de tratamento intensivo de um hospital, uma lúgubre chuva caía na cidade. A tarde em que foi enterrada, no entanto, foi particularmente ensolarada, como se o céu declarasse uma trégua para a chegada de uma convidada ilustre, como se não fosse possível recebê-la entre lágrimas, como se merecesse uma recepção solar. Deus não poderia ser mais justo.
D. Carminha foi uma matriarca: criou oito filhos, viu crescer dezesseis netos, foi uma dedicada esposa durante toda a vida – uma união que se perpetuou quando menos de um mês após sua morte, seu esposo, o engenheiro e fotógrafo José Otávio de Melo, também foi a seu encontro.
Ela conseguiu um feito que invejo, algo que os escritores, poetas em especial, dificilmente conseguimos: conciliar nossa escritura à família. Tenho comigo que – e os leitores têm todo o direito de discordar –, salvo raras exceções, os poetas são o olho do furacão, levam para seu abismo de letras todo o amor dos que os rodeiam e são consumidos por suas próprias letras. Com D. Carminha, não. É um mistério para mim como conseguia a poetisa dar conta do caos que brotava do seu ser e que se despejava em poesia, ao mesmo tempo que lograva ser uma presença serena onde chegasse; que acolhia quem lhe pedisse um pão com o mesmo fervor com que defendia a Academia, pela poesia, contra a mediocridade e os puros jogos de interesses. Quanta falta fazem os poetas autênticos, que o são porque queima dentro de sua alma uma verdade que não quer calar, porque ignoram os egos inflados e a soberba dos poderosos com uma ternura desconcertante. Quem a conhecia sabia que transcendia ideologias, buscava a palavra essencial, via a poesia no cotidiano ou nas profundezas da alma humana com suas pupilas aéreas, pupilas de poeta. Quanta falta fazem os poetas que derrubam o mundo com um silêncio.
Maria do Carmo Barreto Campello de Melo foi verdadeiramente uma luminosa presença em incontáveis vidas, uma irradiação tênue e constante na epiderme dos que se aproximaram dela: com sua luz alimentava flamboyants para que desabrochassem. Talvez um dia percebamos quantos flamboyants ajudou a nascer para a poesia. Talvez algum dia entendamos a dimensão da influência da poetisa da Torre nas veias literárias que se espalham por nossa cidade. Um exemplo dessa dimensão foi dado naquela triste tarde de 2008 em que nos despedimos dela: a poucos metros do ataúde e da imensidão de silenciosas coroas de flores, choroso num cantinho, Miró da Muribeca. Mais uma vez, os que não conhecem D. Carminha talvez não entendessem a emoção do poeta, dono de uma lírica que os incautos julgariam diametralmente oposta à dela. Mas apenas pensariam isto os que não sabem que foi Maria do Carmo quem primeiro publicou o poeta em 1984, no jornal interno da Sudene, órgão em que ela trabalhou por vinte e cinco anos. A poetisa viu, nos textos do então auxiliar de limpeza João Cláudio Flávio Cordeiro da Silva, o nascimento de um grande poeta. Olhos de poeta, que veem além do preconceito mofado de parte das elites dos casarões açucarados. Entre lágrimas, Miró contou naquela tarde como Maria do Carmo o ajudou quando se travestia de faxineiro da Sudene – o poeta sempre esteve ali, mas só Carminha o viu –, como ela lhe pedia para não “colocar palavrões nos poemas”. Como um bom poeta, não era de seguir conselhos, mas disse naquela tarde de sol um poema sem palavrões para D. Carminha. O poema de Miró[1]“Poema de janeiro”, Miró da Muribeca dizia assim:
O céu hoje acordou cinzento
sem nuvens
sem estrelas
sem nada.
Devo agora calçar os sapatos
Retocar tim tim por tim tim o coração
O chão da cidade
Não há mais sonhos nem arco-íris na íris do meu olhar
Que antes, bem antes
Era tanto mar, tantos rios, tontos risos
Devo agora fazer as malas
Apertar com cuidado poucas roupas
alguns amigos
Cartões postais pra não te perder de vista
E o eterno vício de querer mais que nunca o exercício [de viver
Sem ter que pegar no seu pé para ensinar o ritmo
Por sermos tão desiguais dançamos em diferentes trilhos
Devo agora caminhar
Não deixei grãos de milhos na estrada
Mas devo saber voltar
O dia para Miró era cinza, como para todos os que ali estavam. Mas D. Carminha insistia em brilhar, em ser aquela presença de que falávamos, presença terna que sinto ainda hoje, quando me pego lembrando de nossas conversas vespertinas em sua modesta sala, rodeados de livros, anotações, entre uma visita e outra que chegava, sob o olhar zeloso de seu José. Sinto uma melancólica alegria de ter sido um de seus últimos pupilos, de ter compartilhado sua amizade generosa no auge de sua maturidade e sapiência. Naquela tarde, após Miró, li um dos que considero ser um de seus mais belos poemas. Li-o como um canto contra a visão do esquife, que silencioso guardava o corpo que fora da amiga, como um grito que rompesse aquele silêncio. O seu poema diz assim:
Isso
que vedes
não sou Eu,
tão só as coisas que
me compõem:
o lenço, as mãos
os cabelos vegetais e esse
olhar longínquo.
As coisas
só me anunciam
e à minha presença múltipla e fragmentária
Mas me adivinhareis e a
meu trânsito nos dias. Sou uma dor itinerante.
Isso que vedes,
não sou Eu
só me antecede/ me prepara
que vária e inconclusa
subsisto
e sólitária assito
às muitas mortes de mim.Isso que vedes
não sou Eu.
Ninguém mais recitou poemas naquela tarde.
Confesso que a decepção me tomou num primeiro momento. Insólita multidão de poetas silenciosos diante de túmulo florido. Depois compreendi que nada mais devia ser dito, que talvez o silêncio, tão querido a minha amiga, fosse um gesto que apreciasse. Mas não! Talvez não fosse o silêncio a última coisa que ela quisesse:
“Vim para ficar
não tenho parte com as coisas transitórias.
sou imanente inconsútil estrutural sou inteiriça: talharam-me de uma
peça só
deram-me um nome
e uma cor secreta que adivinho em sonhos
daí que carrego uma saudade nos olhos que me faz parecer um calendário
[sem tempo.
Cheguei para ficar.
Minha permanência perturba tua transitoriedade sem raízes
descompassa teus passos sem compromisso com o chão que me retém.
Os que não me sabem me adivinham marco fincado
entre estradas partindo para onde não sei
estática rosa dos ventos para tua face instável e fugidia.”
Maria do Carmo Barreto Campello de Melo permanecerá em nós – apenas os verdadeiros poetas permanecem; a imortalidade não se consegue com uma cadeira numa mesa de célebres senhores e senhoras, mas com letras, sangue e alma. Agora, em todos nós resta a lembrança desta senhora de sorriso discreto, de poucas palavras, de uma alma imensa, de gestos suaves e ideias enérgicas. Quanto a mim, lhes digo que me restam umas poucas coisas que guardo com o terror das coisas de Rilke. Resta em mim uma última lágrima não derramada, resta em mim sua letra escondida entre os silêncios de minha letra, resta em mim o cheiro doce dos jasmins vespertinos do quintal de sua casa, florescendo eternamente no pátio de minha saudade.
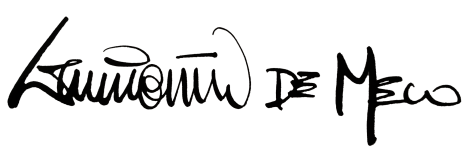




Sem comentários